Ataques cibernéticos a empresas: Impactos e caminhos
13/08/2025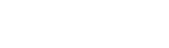
Por Jéssica Almendro
Recentemente, vieram à tona esquemas altamente sofisticados de lavagem de dinheiro, que teriam movimentado bilhões de reais na economia, valendo-se de instrumentos financeiros inovadores e complexos. Esses mecanismos não apenas ocultaram a origem ilícita dos recursos, mas também dificultaram significativamente a atuação dos órgãos de controle e fiscalização, desafiando a efetividade das atuais estruturas de combate à criminalidade financeira.
O crime de lavagem de dinheiro, em sua natureza primitiva, já se configura como uma infração penal complexa e estruturalmente organizada, composta por três fases interdependentes: a colocação, a ocultação e a integração dos recursos ilícitos no sistema financeiro formal. Com os avanços tecnológicos, essas etapas tornam-se ainda mais complexas.
Essa complexidade ou variedade dos métodos utilizados no crime em questão podem ser compreendidas da seguinte maneira:
“Como os países e organismos de repressão acabam adotando novas medidas na luta contra a lavagem de dinheiro, os agentes que praticam a lavagem de dinheiro se veem obrigados também a desenvolver novas técnicas de lavagem para fugir à fiscalização e garantir o sucesso da empreitada. Por isso uma das características principais do crime de lavagem de dinheiro é a sua facilidade de adaptação a novas realidades e a rapidez no desenvolvimento de novos métodos, permitindo que se alcance, em certas ocasiões um alto grau de sofisticação nas operações realizadas.[1]”
Com o objetivo de dissociar a origem ilícita de bens, direitos e valores obtidos por meio de atividades criminosas, os agentes envolvidos na lavagem de dinheiro buscam constantemente mecanismos que possibilitem legitimar tais recursos perante o sistema financeiro.
Uma das estratégias cada vez mais utilizadas é a inserção desses valores em operações realizadas por fintechs, que, devido à sua estrutura tecnológica ágil, ao ambiente regulatório ainda em consolidação e à crescente capilaridade no mercado, acabam sendo exploradas como meio para injetar o capital oriundo de crimes na economia formal, dando início ao processo de branqueamento de capitais.
Posteriormente, os valores inseridos nessas plataformas digitais são manipulados por meio de diversas operações financeiras, até adquirirem uma aparência de licitude que lhes permita circular livremente no mercado formal.
Neste contexto, torna-se essencial refletir sobre a crescente sofisticação dos esquemas de lavagem de dinheiro, impulsionada pelo uso de novas tecnologias financeiras, analisando-se, ao mesmo tempo, os limites da legislação vigente e a maneira como ela vem sendo aplicada pelas autoridades competentes.
De acordo com o Banco Central do Brasil[2], as fintechs são classificadas da seguinte forma:
“Fintechs são instituições financeiras que usam tecnologia para inovar no mercado. Existem três tipos de fintechs reguladas pelo Banco Central (BC):
- Instituições de Pagamento (IP): trabalham com cartões de débito, crédito e maquininhas. Precisam de autorização do BC se movimentarem mais de R$ 500 milhões em pagamentos ou R$ 50 milhões em contas pré-pagas;
- Sociedade de Crédito Direto (SCD): fazem empréstimos e financiamentos online; e
- Sociedade de Empréstimo entre Pessoas (SEP): facilitam empréstimos entre pessoas.
As fintechs de crédito são as SCDs e SEPs e dependem de autorização do BC. Outras fintechs não são reguladas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e pelo BC e devem atuar como prestadoras de serviço ou intermediárias de instituições financeiras no fornecimento de crédito imobiliário.”
No Brasil, as fintechs estão regulamentadas desde abril de 2018, por meio das Resoluções nº 4.656 e 4.657 do Conselho Monetário Nacional (CMN).
Entre as principais vantagens proporcionadas por esse modelo inovador, destacam-se o aumento da eficiência e da concorrência no mercado de crédito, a maior rapidez e celeridade nas transações, a redução da burocracia no acesso ao crédito, a criação de condições para a diminuição do custo do crédito, o incentivo à inovação e a ampliação do acesso ao Sistema Financeiro Nacional.
Em razão de muitas dessas fintechs ainda estarem em estágio inicial, elas podem apresentar estruturas de compliance menos robustas do que bancos tradicionais. Além disso, elas oferecem produtos que permitem rápida movimentação de grandes volumes com menos fricção e menor escrutínio regulatório.
Esse conjunto de características criou um ambiente propício para que organizações criminosas identificassem uma brecha ideal para a lavagem de dinheiro proveniente de atividades ilícitas, especialmente por meio da utilização das chamadas contas-bolsão.
Essa modalidade de conta funciona da seguinte maneira: as contas-bolsão são mantidas pela própria fintech em um banco parceiro, onde os recursos de vários usuários ficam centralizados em uma única conta registrada em nome da fintech. Ou seja, o cliente não possui uma conta bancária individual no banco parceiro, mas sim um saldo que é controlado internamente pelo sistema da fintech.
Quando o cliente abre uma conta em seu nome na fintech e deposita uma quantia, ele fica “invisível” para o banco comercial, já que o valor depositado é transferido para a conta-bolsão, que está registrada no nome da própria fintech, tornando-a a titular dessa conta.
Nas movimentações bancárias, o nome da pessoa física não aparece no extrato; quem consta como titular e responsável pela conta é a fintech. Portanto, em transferências realizadas, a origem registrada será sempre a fintech, e não o cliente que realizou a operação, apontando somente o nome do beneficiário da transação.
Por isso, dizemos que, nesse modelo, a pessoa física fica “invisível” perante bloqueios judiciais direcionados ao banco comercial, uma vez que não há registro direto da movimentação em seu nome na instituição financeira. Assim, o patrimônio mantido na conta-bolsão pode ficar protegido de restrições ou bloqueios vinculados diretamente ao cliente.
É evidente que essa modalidade de conta não foi criada com o objetivo de beneficiar atividades ilícitas. Seu propósito principal é agilizar e simplificar as operações internas das fintechs, além de reduzir custos operacionais, tanto para as próprias empresas quanto para os usuários.
No entanto, diante das exigências cada vez mais rigorosas impostas aos bancos tradicionais, criminosos buscaram alternativas. Com isso, passaram a explorar estruturas menos fiscalizadas, aproveitando-se da ausência de mecanismos de controle tão rigorosos quanto os aplicados às instituições financeiras convencionais para prática de delitos, principalmente o crime de lavagem de capitais.
Para que o ativo financeiro adquira uma aparência de licitude, ele precisa passar por determinadas etapas, conforme adiantado anteriormente. Embora existam diversas maneiras de realizar esse processo, neste contexto destacamos especificamente o uso de fintech como meio de disfarçar a origem ilícita de recursos e reintegrá-lo à economia formal.
Inicialmente, há a necessidade de realizar a fase de colocação, na qual o capital oriundo de um crime anterior é introduzido no sistema financeiro. Nesse estágio, é comum que os criminosos utilizem contas abertas em fintechs em nome de terceiros — os chamados ‘laranjas’ — e realizem o fracionamento dos valores em diversas contas distintas. Essa estratégia visa evitar a detecção por órgãos de controle e dificultar a identificação da operação como suspeita.
Considerando que o grande montante é fracionado em valores menores, essa prática pode não chamar a atenção das autoridades de forma imediata. Por esse motivo, é uma manobra frequentemente utilizada por criminosos, que recorrem a contas abertas em nome de pessoas próximas ou de terceiros cujos documentos são usados sem consentimento.
Nesse sentido,
“O depósito fracionado de valores em conta-corrente, em quantias que não atingem os limites estabelecidos pelas autoridades monetárias à comunicação compulsória dessas operações, apresenta-se como meio idôneo para a consumação do crime de lavagem de capitais.[3]”
Uma vez inseridos os valores no sistema por meio dessas contas, os criminosos avançam para a fase de ocultação, cujo objetivo é dissimular a origem ilícita dos recursos, tornando mais difícil o rastreamento e afastando o produto do crime de sua fonte original.
Nesta etapa, diversas táticas podem ser empregadas, como a realização de transferências sucessivas entre contas digitais — inclusive em diferentes instituições —, a combinação dos recursos ilícitos com capital de origem lícita (por exemplo, depositando valores em negócios legítimos, como postos de combustíveis, para que se misturem com receitas reais), além da utilização de plataformas de apostas e conversão dos valores em criptoativos, dificultando ainda mais o rastreamento por parte das autoridades.
A rotatividade do capital, distribuído entre diversas aplicações e transações financeiras, torna a rastreabilidade significativamente mais complexa, especialmente devido à constante mistura entre recursos de origem lícita e ilícita. Esse entrelaçamento proposital dificulta a identificação da procedência dos valores e compromete a eficácia das investigações, permitindo que o dinheiro sujo seja gradualmente incorporado ao sistema financeiro formal com aparência de legalidade.
Neste estágio, alcança-se a fase final do crime de lavagem de capitais: a chamada integração. Trata-se do momento em que os recursos, após passarem pelas etapas de colocação e ocultação, são reintroduzidos na economia formal com aparência de legalidade.
Nas palavras dos autores André Luís Callegari e Raul Marques Linhares[4]: “Consumada a etapa de mascaramento, os lavadores necessitam proporcionar uma explicação aparentemente legítima para sua riqueza, logo, os sistemas de integração introduzem os produtos lavados na econômica de maneira que apareçam como investimentos regulares, créditos ou investimentos de poupança – em outras palavras, os ativos, nessa fase, emergem no fluxo regular de capitais com um “selo de licitude”. Portanto, os procedimentos de integração situam os fundos obtidos com a lavagem na economia de tal forma que, integrando-se no sistema bancário, por exemplo, aparecem como produto normal de uma atividade comercial.”
Essa integração costuma ocorrer por meio de venda de bens imóveis, constituição de empresas de fachada, participação em fundos de investimento privados, aporte em startups ou, ainda, por meio de pagamentos internacionais simulados, conferindo ao capital ilícito uma origem aparentemente lícita e dificultando sua identificação pelas autoridades.
Uma das estratégias adotadas por criminosos nessa fase consiste em apresentar os valores ilícitos, agora aparentemente “limpos”, como sendo lucros provenientes de investimentos. A manobra se torna ainda mais crível pelo fato de que, em determinados setores, os percentuais de lucro podem variar significativamente — em alguns casos, alcançando margens bastante elevadas — o que dificulta a identificação de irregularidades e dá ainda mais a aparência de licitude ao patrimônio.
Percebe-se que o capital ilícito pode percorrer uma ampla variedade de caminhos, sem limitações geográficas ou barreiras tecnológicas, o que torna o trabalho de fiscalização e controle pelas autoridades significativamente mais complexo.
É importante destacar que, em muitos casos, essas fintechs podem estar sendo utilizadas de maneira inadvertida por organizações criminosas como instrumentos para a prática de lavagem de dinheiro. Nessa dinâmica, acabam se tornando vítimas dentro do próprio modelo de operação, muitas vezes sem suspeitar.
Isso ocorre porque frequentemente os criminosos que se identificam como clientes dessas fintechs omitem ou falsificam informações sobre a natureza real de suas atividades. Tal prática pode acarretar sérios danos à própria empresa, bem como aos seus dirigentes e colaboradores, que podem ser responsabilizados civil, administrativa ou penalmente, bem como em prejuízos financeiros e danos à reputação.
Diante das recentes fragilidades observadas no setor de fintechs, a Receita Federal do Brasil publicou, em 29 de agosto de 2025, a Instrução Normativa nº 2.278/2025, com o objetivo de reforçar a transparência e o controle sobre as operações realizadas por essas instituições. A norma estende às instituições de pagamento — como carteiras digitais, subadquirentes e demais fintechs — as mesmas obrigações de prestação de informações financeiras já exigidas dos bancos tradicionais.
Com essa mudança, essas empresas passam a ser obrigadas a reportar dados por meio do sistema e-Financeira, uma plataforma implementada desde 2015 que centraliza o envio de informações sobre movimentações financeiras à Receita Federal. O sistema é utilizado para fins de fiscalização, combate à sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e outras irregularidades financeiras.
A nova normativa representa um passo importante na equiparação regulatória entre instituições financeiras tradicionais e os novos operadores do mercado digital, reforçando a supervisão sobre o ecossistema financeiro como um todo e buscando aumentar a segurança e integridade do sistema.
O avanço das fintechs traz inovação e inclusão financeira, mas também exige maior vigilância regulatória para impedir que se tornem ferramentas da lavagem de dinheiro, por isso, alcançar o equilíbrio entre inovação, inclusão financeira e segurança jurídica será determinante para evitar que esses avanços se tornem brechas exploradas pelo crime organizado.
REFERÊNCIAS:
CELLEGARI, André Luís; LINHARES, Raul Marques. Lavagem de dinheiro (com a jurisprudência do STF e do STJ). – 2 ed. Rio de Janeiro: Marcial Pons, 2023
BADARÓ, Gustavo Henrique; PIERPAOLO, Cruz Bottini. Lavagem de Dinheiro: aspectos penais e processuais penais: comentários à Lei 9.613 com alterações da Lei 12.683/2012 – 2 ed. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013.
https://www.bcb.gov.br/meubc/faqs/p/o-que-sao-fintechs-de-credito
STF, AP 996, Relator Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 29/05/2018
Instrução Normativa nº 2.278/2025 – https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-rfb-n-2.278-de-28-de-agosto-de-2025-651968141
[1] CELLEGARI, André Luís; LINHARES, Raul Marques. Lavagem de dinheiro (com a jurisprudência do STF e do STJ). – 2 ed. Rio de Janeiro: Marcial Pons, 2023, p. 48.
[2] Disponível em: https://www.bcb.gov.br/meubc/faqs/p/o-que-sao-fintechs-de-credito
[3] STF, AP 996, Relator Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 29/05/2018.
[4] Ibidem, p. 63