A captação ambiental como meio de prova
18/01/2022Odel Antun comenta portaria da PGFN que impõe novos procedimentos na esfera penal
18/03/2022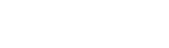
Na última semana de outubro, iniciava-se, no STF, no interesse das ADIs 6298, 6299, 6300 e 6305, importante audiência pública promovida para discussão a respeito de alguns pontos do chamado “Pacote Anticrime”.
O JUIZ DE GARANTIAS NO BRASIL: Uma análise da necessidade de implementação da medida para garantia da imparcialidade do julgador
Por Alvaro Augusto Orione Souza e Ana Clara da Costa Santos
Na última semana de outubro, iniciava-se, no Supremo Tribunal Federal, no interesse das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6298, 6299, 6300 e 6305, importante audiência pública promovida para discussão a respeito de alguns pontos do chamado “Pacote Anticrime”, instituído pela Lei n. 13.964/2019.
Na oportunidade, estiveram presentes 68 (sessenta e oito) representantes da sociedade civil – magistrados, representantes de tribunais, da Ordem dos Advogados do Brasil e do Ministério Público Federal, defensores públicos, policiais federais e institutos de proteção ao direito de defesa -, para debater sobre os prós e contras das importantíssimas modificações promovidas na legislação processual penal brasileira pela nova normativa, que entrou em vigor em janeiro de 2020.
No primeiro eixo de debates promoveu-se a análise da figura do Juiz das Garantias, instituída no art. 3º-A a 3º-F do Código de Processo Penal. O Juiz das Garantias, segundo as alterações propostas, atuará exclusivamente na fase pré-processual da persecução penal e a ele serão confiadas, por exemplo, a realização da audiência de custódia, a decretação de cautelares no curso da investigação e o eventual recebimento de denúncia, estando impedido de atuar na condução da ação penal.
A medida busca evitar que o magistrado responsável pela sentença de condenação ou absolvição seja contaminado por qualquer pré-conceito que poderia herdar de sua participação e intervenção na fase de investigação, formando, assim, o seu convencimento, exclusivamente a partir da prova produzida em contraditório judicial.
Essa figura, transplantada de outros sistemas de justiça, embora há muito reclamada por grande parte da doutrina penalista nacional – eis que, a princípio, contribuiria à uma condução do processo penal mais imparcial e, portanto, mais justo -, ainda atrai controvérsias, pois há também quem defenda que o instituto, de difícil e custosa implementação, não traria, na prática, os benefícios prometidos.
Mesmo em razão de algumas dessas dificuldades práticas, tem-se que a eficácia do novo art. 3º-A do CPP está suspensa desde janeiro de 2020, em razão de medida liminar concedida pelo Ministro Luiz Fux, no bojo da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.299/DF1, de modo que a efetiva implementação do Juiz das Garantias segue sendo discutida até a presente data.
Nos debates realizados no Supremo Tribunal Federal a respeito do tema, restou evidente, mais uma vez, a divergência de alguns setores quanto à efetivação da medida, o que apenas reforça a necessidade de amadurecimento da reflexão a respeito da constitucionalidade deste instituto, de tão amplo impacto para a Justiça Criminal.
No cerne das exposições realizadas nos dias 25 e 26 de outubro a respeito das normas dos arts. 3º-A a 3º-F do Código de Processo Penal, tem-se a indissociável reflexão sobre a preservação da imparcialidade do Magistrado que atua do inquérito – seja praticando atos meramente burocráticos, decretando cautelares durante a investigação ou mesmo decidindo o recebimento da denúncia -, na prática de atos posteriores, como por exemplo a prolação de sentença definitiva.
Isso porque a imparcialidade do julgador é uma garantia fundamental do cidadão brasileiro, por decorrência lógica da Cláusula do devido processo legal, positivada por meio do art. 5º, LIV, da Constituição Federal2, e também por ser essencial ao acesso à justiça, eis que, como bem explica Rubens Casara, tal direito “só se concretiza se o cidadão puder veicular sua pretensão perante um juiz independente.”3.
A referida garantia, elementar ao Estado Democrático de Direito, foi consagrada no direito supranacional pelo Pacto de São José da Costa Rica, do qual o Brasil é signatário, que estabeleceu a Convenção Americana Sobre Direitos Humanos, internalizada no nosso ordenamento jurídico por meio do Decreto 678, de 06/11/1992. A referida convenção, no título das “Garantias Judiciais”, em seu artigo 8º, prevê expressamente o direito de toda pessoa, de ser ouvida por um juiz imparcial4.
Justamente visando à concretização desse direito fundamental que muitos ordenamentos jurídicos latino-americanos, ou mesmo europeus, possuem a figura do juiz que atua exclusivamente na fase pré-processual – tal qual o Juiz das Garantias instituído no Pacote Anticrime.5
Na verdade, como bem destacou Gustavo Badaró, durante sua atuação como representante da Ordem dos Advogados do Brasil na audiência pública realizada no último dia 25 de outubro, todos os códigos modernos mais importantes, de civil law ou common law, adotaram a distinção entre o magistrado que pratique atos de jurisdição durante as investigações, daquele responsável pelo julgamento de mérito da ação.6 Mesmo por isso, grande parte da doutrina brasileira defende a implantação do instituto ao nosso sistema jurídico, em analogia ao entendimento já aplicado em outros países.
Entretanto, há quem entenda que o grau de cognição judicial exigido, pelo direito brasileiro, no deferimento de medidas cautelares, não equivale ao verificado em modelos destes outros países, e, por isso, não poderia produzir impedimento ao juiz atuante na fase de investigação, por não representar um exame profundo do mérito ou da responsabilidade criminal do investigado.7
Diante das inequívocas particularidades do sistema acusatório brasileiro, que certamente se difere, em alguma medida, dos mencionados ordenamentos estrangeiros, surge o relevante o questionamento: o avanço do juiz sobre a análise do fato, ao decretar uma medida cautelar no curso da investigação, no modelo atual, seria o suficiente para ver prejudicada sua imparcialidade na condução da ação penal?
Mauro Fonseca Andrade, representando a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público – CONAMP na audiência pública sobre o Juiz das Garantias, e autor de obra inteiramente dedicada à análise do instituto, defendeu amplamente, na oportunidade, que a atuação do juiz na fase de investigação, à luz ordenamento jurídico brasileiro, importa em análise de cognição meramente superficial, que, portanto, não seria suficiente para prejudicar a imparcialidade do julgador, quando da prolação de sentença. Nesse sentido:
Se, por ventura, esse juiz não investigar, mas se restringir à análise dos incidentes que venham a ocorrer na fase de investigação – tal como o juiz brasileiro –, a atenção deverá se voltar ao teor de suas decisões proferidas na primeira fase da persecução penal. E, aqui, o que passa a importar é o grau de profundidade exigido nessas decisões, particularmente sobre o exame do fato ou do agente, para determinar a quebra de algum direito fundamental. Em outros termos: o nível de exigência para se deferir uma cautelar não pode ser o mesmo para se condenar alguém.
Se assim o é, inegável que a cumulação de funções pelo juiz não leva, a priori, a qualquer “presunção de parcialidade” (…) cabendo ao interessado comprovar a existência de elementos que indiquem a perda do principal atributo judicial, que é a própria imparcialidade do julgador.8
(…)
O grau de conhecimento, exigido do juiz, para deferir medidas cautelares, é claramente superficial, contentando-se com elementos de ordem indiciária em relação à autoria da infração penal. (…) Portanto, se o grau de profundidade das decisões tomadas na fase de investigação é – em muito, acrescentamos nós – inferior ao exigido para se condenar alguém, por óbvio que a lição do TEDH jamais poderia indicar que o juiz brasileiro, da fase de investigação, seja considerado contaminado após proferi-las. 9 (Itálicos no original).
Seguindo o mesmo entendimento, o Representante no Conselho Nacional de Justiça, Mario Augusto Figueiredo, sustentou que o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal seria suficiente para afastar problemas de contaminação do julgador. Nessa concepção, a livre apreciação da prova produzida em contraditório, na fase de instrução e julgamento, permitiria ao juiz romper as preconcepções carregadas da fase de investigação, e formar sua convicção de maneira imparcial.
Essa, contudo, não parece a posição mais acertada, já que não há como afirmar que o standart probatório da decisão tomada na fase de investigação é suficientemente distante do standart probatório da sentença, por consequência inafastável de alguns dispositivos do Código de Processo Penal.10
Analisando o texto do art. 386 do Código de Processo Penal, por exemplo, extraímos as hipóteses em que o julgador deverá absolver o réu na ação penal:
Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:
I – estar provada a inexistência do fato;
II – não haver prova da existência do fato;
III – não constituir o fato infração penal;
IV – estar provado que o réu não concorreu para a infração penal;
V – não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal;
VI – existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena (arts. 20, 21, 22, 23, 26 e § 1º do art. 28, todos do Código Penal), ou mesmo se houver fundada dúvida sobre sua existência;
VII – não existir prova suficiente para a condenação. 11
A leitura do artigo revela que os três primeiros incisos (I, II e III) parecem se opor diretamente à prévia decretação, pelo magistrado atuante na fase pré-processual, da prisão preventiva do investigado, eis que, nos termos do art. 312, exige-se, na fundamentação da segregação cautelar, a “prova da existência do crime”.
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
Há uma incompatibilidade lógica, a dizer o mínimo, entre o juízo de convicção quanto à existência do crime (“prova da existência do crime”), exigido para a decretação da prisão preventiva, e quase metade das hipóteses de absolvição, a serem posteriormente contempladas pelo magistrado, as quais dizem respeito, justamente, à inexistência do crime. Não procede, assim, o argumento de que a decretação de cautelares, pelo juiz do inquérito, não lhe exigiria um aprofundamento tal no mérito do caso, a ponto de mitigar a sua imparcialidade, eis que o julgador que decretar a prisão do investigado, por exemplo, inquestionavelmente estará imbuído de um juízo pré-processual, pré-contraditório, de todo desfavorável ao futuro réu.
Segundo André Machado Maya, o mesmo acontece na verificação da adequação e necessidade de qualquer medida cautelar, já que ao fundamentar sua decisão o juiz formaria uma convicção inicial sobre a provável existência do crime, ou participação do investigado no fato delituoso.12 Sobre o tema este autor se manifesta da seguinte forma:
Em todas essas situações processuais, ainda que tais sejam meramente exemplificativas das possíveis hipóteses geradoras da prevenção, a necessária formação de um juízo de valor acerca da medida cautelar pretendida, com a consequente necessidade de exposição dos motivos do deferimento ou do indeferimento da medida, geram uma possibilidade concreta de contaminação subjetiva do magistrado e, como consequência, o risco de quebra da imparcialidade.
No ponto, calha ressaltar que, como regra, essas decisões são proferidas no curso da investigação criminal, sem o prévio contraditório e com base unicamente em elementos colhidos pelos órgãos de persecução penal do Estado. Consequentemente, é concreto o risco de aproximação subjetiva do juiz aos órgãos acusatórios e, assim, de desequilíbrio da relação de equidistância que caracteriza a imparcialidade. Isso porque, por ocasião da instrução criminal, o magistrado que formou um convencimento prévio sobre o fato naturalmente tenderá a ser mais receptivo às provas que confirmam a sua hipótese, em detrimento das provas em sentido contrário, e assim estará inviabilizada a paridade de armas que deve marcar a disputa em contraditório entre as partes.13
Isso implica dizer que o juiz que se debruça sobre os elementos probatórios reunidos no curso da investigação teria que revisitar seu próprio juízo, já emitido em fase pré-processual, no momento em que vem a exercer a condução da ação penal, para que, efetivamente, se estivesse diante de uma decisão imparcial.
Ocorre que a psicologia cognitiva, ao estudar os vieses decisórios, demonstrou que estes são processos inconscientes e inerentes à condição do ser humano. Nesse sentido, Bernd Shünemann14, aplicando a Teoria da Dissonância Cognitiva15 a interessante estudo, concluiu que o os juízes que têm conhecimento dos elementos desenvolvidos na fase pré-processual formam, desde então, uma imagem do caso, e tendem a menosprezar informações dissonantes daquelas inicialmente concebidas.
Essa problemática foi apresentada ao Supremo Tribunal Federal na exposição do psiquiatra Hewdy Lobo, do Instituto Anjos da Liberdade, na audiência pública realizada no dia 25 de outubro. Hewdy observou que, do ponto de vista da neurociência, mesmo após o surgimento de novas provas, o magistrado pode tomar decisões influenciadas pelas primeiras informações com que teve contato, ainda que inconsciente e involuntariamente.
Sendo assim, ainda que durante a fase investigativa o juiz ficasse adstrito a uma análise superficial e preliminar do caso, seu envolvimento já seria suficiente para influenciar seus vieses cognitivos em desfavor ao investigado.
Não é razoável, portanto, confiar a guarda da imparcialidade do sistema de justiça somente na capacidade do julgador de dissociar as concepções adquiridas no curso do inquérito daquelas que embasarão a sentença que ele mesmo irá proferir. Eis que, como bem destacado pelo Instituto de Advogados de Minas Gerais e Instituto de Ciências Penais, em seu parecer jurídico acostado à ADI 6299, “o processo racional deve ser estruturado não em função de uma utópica neutralidade, mas sim para assegurar a imparcialidade, que com aquela não se confunde”.
Por tudo isso, entende-se que a implementação, no Brasil, da figura do Juiz das Garantias seria a medida adequada para preservar o distanciamento do juiz sentenciante da valoração dos elementos não sujeitos ao contraditório, e garantir a imparcialidade de sua atuação no processo. Espera-se que esse posicionamento prevaleça perante a Suprema Corte, superando-se as divergências aqui expostas.
NOTAS
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.299/DF. Requerente: Partido Trabalhista Nacional e outros. Relator: Ministro Luiz Fux. Brasília, 22 de janeiro de 2020. Disponível em: < http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI6298.pdf>.
2 FELDENS, Luciano; SCHMIDT, Andrei Zenkner. O marco normativo do direito fundamental a um juiz imparcial: do passado ao presente. In MALAN, Diogo; MIRZA, Flávio (coord.). Setenta anos do código de processo penal brasileiro: balanços e perspectivas de reforma. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p. 24.
3 CASARA, Rubens R.R. Mitologia processual penal. São Paulo: Saraiva, 2015. p 144.
5 À exemplo de Portugal, Argentina, Alemanha, Italia, Chile, Paraguai, Colombia
6 O mesmo entendimento se extraí da obra “La giurisdizione di garanzia nelle indagini preliminari”, de Francesca Ruggieri.
7 ANDRADE, Mauro Fonseca. Juiz das garantias. 2. ed. rev. atual. Curitiba: Juruá, 2015, pp. 88
8 ANDRADE, Mauro Fonseca. Juiz das garantias. 2. ed. rev. atual. Curitiba: Juruá, 2015, p.p. 32-33
9 ANDRADE, Mauro Fonseca. Juiz das garantias. 2. ed. rev. atual. Curitiba: Juruá, 2015, p.p. 33-34
10 Essa reflexão é proposta por Gustavo Badaró na Ação Pública realizada no Supremo Tribunal Federal sobre o Juiz de Garantias.
11BRASIL. Decreto-Lei 3.689, de 03 de outubro de 1941. Código de Processo Penal. Rio de Janeiro, DF, out 1941, destacamos.
12 MAYA, André Machado. Juiz de garantias: fundamentos, origem e análise da lei 13.964/19. São Paulo: Tirant lo Blanch, 2020. P. 36-37
13 MAYA, André Machado. Juiz de garantias: fundamentos, origem e análise da lei 13.964/19. São Paulo: Tirant lo Blanch, 2020. p. 38
14 SCHÜNEMANN, Bernd. O juiz como um terceiro manipulado no processo penal? Uma confirmação empírica dos efeitos perseverança e aliança. In Estudos de direito penal, direito processual penal e filosofia do direito / Bernd Schünemann. Coord. Luís Greco. São Paulo: Marcial Pons, 2013. pp. 205-221.
15 Segundo a teoria da Dissonância Cognitiva, desenvolvida pelo psicólogo estadunidense Leon Festinger, os indivíduos, sistematicamente, superestimam informações que confirmam uma hipótese anteriormente tida como correta, ao mesmo tempo em que menosprezam informações contrárias a essa opinião anterior.